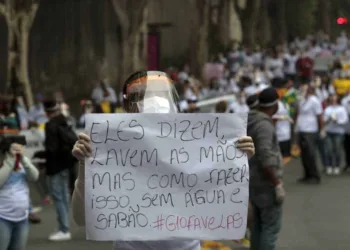Tudo começa com a necessidade de comprar uma roupa branca para irmos às festividades em homenagem ao dia de Reis, no Alto Santo. Andando pela loja percebi duas jovens deslizando por entre roupas na sessão feminina. Bom fisionomista que sou, não tive dúvidas: conheço aquela morena. Ato contínuo, me aproximei delas. Fiquei a fita-las de forma ostensiva. Mas, não lhes dirigi a palavra. Talvez porque a jovem, objeto de meu interesse, não tenha percebido minha atitude. Recuei de meu intento. Voltei ao que estava fazendo: auxiliar minha companheira a escolher uma blusa para o evento no Santo Daime…
Ao sairmos da loja, após termos conseguido comprar a blusa branca, vi novamente as duas moças e comentei o que se passava com minha acompanhante. Ela foi incisiva: vá falar com ela!
Assim, vencidas as hesitações iniciais, e graças ao decisivo estimulo de minha amada, parti para abordagem em meio às saias postadas nos estandes da loja MARISA. Após dar as horas, fiz duas perguntas à queima roupa: “gostaria de saber se seu pai era corneteiro e se seu irmão era goleiro”?
A jovem ficou bem surpresa com aquela investida. Sua amiga, de feições orientais, comentou: “eu percebi que ele estava olhando para você com insistência”.
Refeita do impacto que meu gesto lhe causara, ela respondeu: “meu avô era corneteiro e meu tio era goleiro”. Rapidamente ficou claro que, apesar da defasagem de uma geração, eu estava falando com a pessoa certa. Pelo menos para os meus propósitos. Porque minha vontade, sempre que estou em Rio Branco, é conversar com todas as pessoas que conheci quando morava aqui. Esta é a (minha) forma de procurar restabelecer contato com tantas pessoas de meu convívio em várias fases da vida.
Na sequência obtive confirmação que os dois personagens objeto de meu interesse eram realmente aqueles dos quais procurava notícias: “Meu avó se chamava Cândido e o nome do meu tio é Milton”.
As lembranças de Milton são do convívio pessoal e de meu irmão Oneudes, tanto na escola quando no período em que ele foi um excelente goleiro.
Já o cabo Cândido era o corneteiro da guarde territorial do Acre na época em que meu pai, o sargento Odenir, tocava pistom na banda de música da corporação. Em minha casa, naquela época, os filhos acompanhavam de forma muito próxima o que se passava tanto no ambiente de trabalho de meu pai quanto no de minha mãe, funcionária pública, uma das pessoas que datilografava as folhas de pagamento dos funcionários do território. Assim, meu pai contou algo que se passou com o sr. Cândido pouco antes de sua morte. Em determinado dia, ele foi ao mercado, como fazia costumeiramente, e fez algo inusitado: se despediu de seus amigos dizendo que iria fazer uma viagem. No dia seguinte, faleceu.
Este fato é, na verdade a repetição de algo similar que ocorreu faz alguns anos na fila de embarque do aeroporto de Rio Branco. Comecei a conversar com uma jovem como se ela fosse a Aninha, irmã de meu querido amigo Txai Terri. Apesar de sua gentileza em dar continuidade ao papo, rapidamente ela percebeu que não era exatamente a pessoa que eu imaginava. E revelou meu equivoco nos seguintes termos: eu sou fulana, minha mãe é aquela ali. Antes do embarque, ainda houve tempo para cumprimentar Aninha e Ismael, que foi meu colega de classe à época em que fizemos o ginásio no Colégio Acreano.
Ainda um terceiro caso. Numa das muitas viagens que fiz a Rio Branco, fui com Abrahim – muito mais conhecido como LHE – a uma galeria que não existe mais ao lado do antigo hotel Chuí e do quartel da PM. Fiquei encantado ao perceber como o Lhe se comunicava com jovens que tinham idade para serem seus netos. Claro que isto não se deve apenas ao fato de ele ter permanecido a maior parte de sua vida em Rio Branco. Mas, esta circunstância é parte da explicação para o fato que observei. Obviamente que apenas pessoas públicas, com as caraterísticas dele, conseguem ter tanto transito com pelos menos três gerações sucessivas.
Os episódios dos quais participei revelam algo que fui percebendo aos poucos: é como se eu estivesse dando um drible nas gerações! Explicando melhor: meus vínculos de amizade nas cidades em que morei após ter saído do Acre, aos 15 anos de idade, jamais proporcionaram uma inserção social semelhante ao que eu teria se tivesse permanecido aqui. Estando claro que não tenho nenhuma ilusão quanto ao meu processo de envelhecimento.
O fato de ter retornado com razoável frequência à terra natal permitiu, inequivocamente, a manutenção do meu orgulho de ser acreano, de minha identidade. Mas, não propiciou o acompanhamento da dinâmica das gerações. Claro que percebo que, com o passar do tempo, ocorre aos poucos uma substituição das pessoas nos locais de trabalho, e em todos os espaços nos quais se desenrola a vida urbana. Mas, também perdi em Rio Branco o que não tenho nos lugares em que morei: as pessoas são avulsas, não identifico mais seus vínculos familiares.
A constatação acima tem como forte referência uma atitude cotidiana de minha bisavó Chiquinha Maciel. Quando estava em minha casa, ela se postava no janelão que tinha na parte da frente para olhar a paisagem. Naquela época, todos se conheciam e tinham as referências familiares. Assim, como em “Morte e Vida Severina”: eu era Fernando, filho de Hilda e Odenir; neto do “seu” Garcia. Pois bem, as pessoas que passavam sempre cumprimentavam minha bisavó: “Boa tarde, dona Chiquinha”. E ela: “Boa tarde, José”. E assim, por diante… Quando ocorria de uma pessoa não a cumprimentar ela, incontinente, a chamava. Fazia as perguntas habituais: “Como é seu nome?”; “De quem você é filho?”. Desta forma, aquela pessoa era incorporada ao grupo daqueles que ao passar, sempre a cumprimentavam. Sendo assim, da próxima vez em que ela passasse, o diálogo seria: “Boa tarde, dona Chiquinha”. “Boa tarde”.
Um encontro fortuito, em uma de minhas viagens recentes a Rio Branco, exemplifica bem o que afirmo. Encontrei com o Tôca, grande atacante do Rio Branco e da seleção acreana. Julguei que ele não iria me reconhecer. Foi grande minha surpresa quando ele me fez a seguinte pergunta: “Fernando, você me dá notícias do Aluísio?” Inacreditável, simplesmente inacreditável. Meu tio Aluísio, irmão de meu pai, morou um tempo em minha casa quando eu era criança. Assim, na pergunta do Tôca também está explícito que ele não se esqueceu de fatos muito distantes no tempo, dentre os quais está o meu contexto familiar naquela época. Registro que a esposa do dele foi tomada de grande espanto quando pedi que ela fizesse uma foto minha com o inesquecível craque de outrora. Ela não sabia da importância de seu marido para pessoas que, como eu, o vimos fazer gols decisivos nas partidas do campeonato de futebol de Rio Branco.
Ao ler a minuta deste artigo para a filha do meu primo Guto, que nos hospeda desta vez, ela começou a sorrir e revelou: “eu também fazia isso quando era bem pequena, segundo meus pais me disseram. Eu ficava na janela da frente e abordava as pessoas que passavam, perguntando o nome delas e de quem eram filhos.” Clariana é tataraneta de minha bisavó Chiquinha. Talvez o DNA possa explicar.
Fernando Garcia é acreano, engenheiro, sociólogo, professor de pós graduação em Campina Grande (PB).